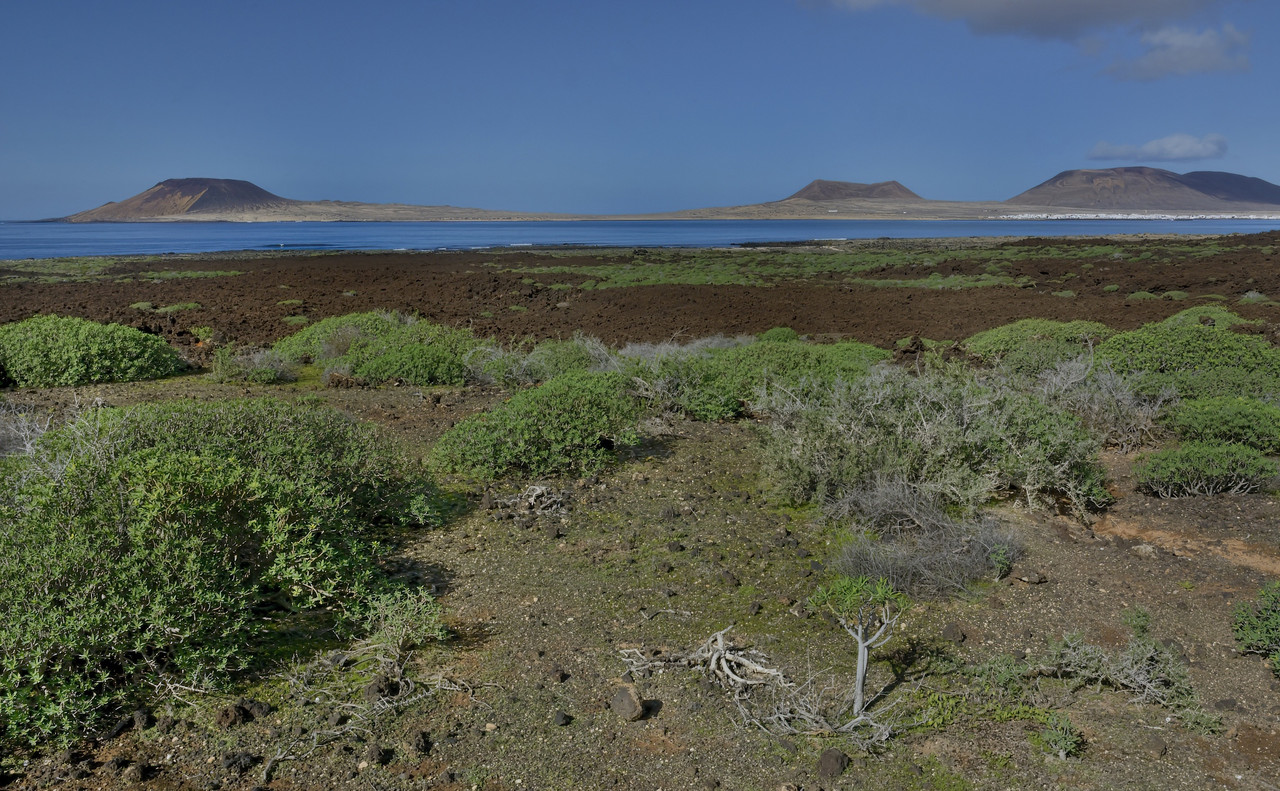Lábios fendidos

A paisagem destruída é casa de gente, bichos e plantas. Das cinzas que amortalharam os prados, entre negros esqueletos de árvores que nem para lenha vão servir, desponta um colorido tenaz (verde, amarelo, rosa) com a força de uma promessa que se cumpre. Ainda não é a Primavera, pois no Inverno também há flores, mas é a certeza de que a vida segue o seu curso. Mesmo a falsa Primavera das acácias, mais deprimente (porque irremediável) do que um bosque queimado, abre aqui e ali, no amarelo sufocante, brechas onde se refugiam outras cores. É desses lugares que poderiam ser de desistência que nos chegam as plantas-guerreiras com que ilustramos o texto de hoje. Em Mareco (Penalva do Castelo), seis meses após os grandes incêndios do Verão de 2024, os bicos-de-cegonha (Erodium cicutarium) floriam desvairadamente, cobrindo com festiva manta cor-de-rosa o solo enegrecido. E na orla de um desses campos vimos um lâmio que nos foi causa de regozijo: não se distinguindo ele dos seus congéneres ruderais mais comuns pela formosura ou pelas exigências ecológicas peculiares, tratava-se afinal de um discreto endemismo lusitano, restrito à zona centro do país. Para completar a agenda desse 1 de Março, faltava-nos descer ao Mondego para um encontro com o Narcissus scaberulus. As margens do rio junto à ponte de Ribamondego são um pesadelo: acácias e mais acácias, nada senão acácias e o seu cheiro adocicadamente enjoativo. Mas os narcisos responderam à chamada, e empoleirado num penedo esperava-nos um outro lâmio, esse de flor branca, para nós também inédito.
Apesar de serem ervitas de fraco prestígio, diríamos até sem eira nem beira, os lâmios (género Lamium) dão nome a uma família botânica que, tanto pela fragrância como pelos usos em culinária e perfumaria, é das mais populares entre quem aprecia plantas. Membros ilustres da família Lamiaceae são, por exemplo, o alecrim, o rosmaninho, o tomilho, a salva, a erva-cidreira e o orégão. E talvez devamos agradecer a existência de plantas que dão cor e alegria até aos habitats mais degradados. Indiferentes a truques de sedução, os lâmios são inodoros (mas comestíveis) e seguem todos um figurino rígido. As flores, concentradas no topo de hastes não ramificadas, são inconfundíveis: com tubo estreito, mas muito alargadas na extremidade, apresentam lábio inferior pendente, dividido em dois lóbulos, e lábio superior convexo, em jeito de boné. Seis dos sete lâmios espontâneos em Portugal são plantas anuais; a excepção é o Lamium maculatum, muito comum em bosques e margens de rios na metade norte do país.




O Lamium coutinhoi (ilustrado acima), o tal endemismo lusitano de terras de Viriato, parece uma média aritmética de duas outras espécies presentes em território português (ambas ilustradas abaixo): o Lamium purpureum, com flores envergonhadas quase ocultas pelas brácteas, e o Lamium amplexicaule, com flores muito salientes e de tubo extra-longo. De facto, o próprio António Xavier Pereira Coutinho, a quem o nome da planta é dedicado, a descreveu originalmente (em 1904) como híbrida. Dado que ela apresenta características estáveis e aparece desacompanhada dos supostos progenitores, sendo pois capaz de se auto-propagar, é inevitável reconhecê-la como boa espécie — mesmo que possivelmente tenha origem híbrida. Ressalve-se que o L. coutinhoi apresenta fortes semelhanças com o L. hybridum, mais comum em Trás-os-Montes, mas os dois distinguem-se bem pelas brácteas das inflorescências: mais largas do que compridas no L. coutinhoi (confira nas fotos acima), muito recortadas no L. hybridum.


(possíveis progenitores do L. coutinhoi)






O Lamium bifidum distingue-se pelas flores brancas com o lábio inferior pintalgado de lilás. Contudo, havendo outros lâmios de flor branca (L. album, e não só), o que mais o singulariza não é a coloração da flor, mas sim o lábio superior fendido. É a essa característica, bem visível nas fotos acima, que se refere o epíteto bifidum. Não se trata da única espécie europeia de boné bifurcado: o L. garganicum, de flores rosa-choque e ausente da Península Ibérica, também o tem, embora de forma menos pronunciada. O L. bifidum, por seu turno, ocorre em Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Balcãs, Córsega e Sardenha; é abundante na parte oriental da sua distribuição, mas a sua presença na Península Ibérica é esporádica.