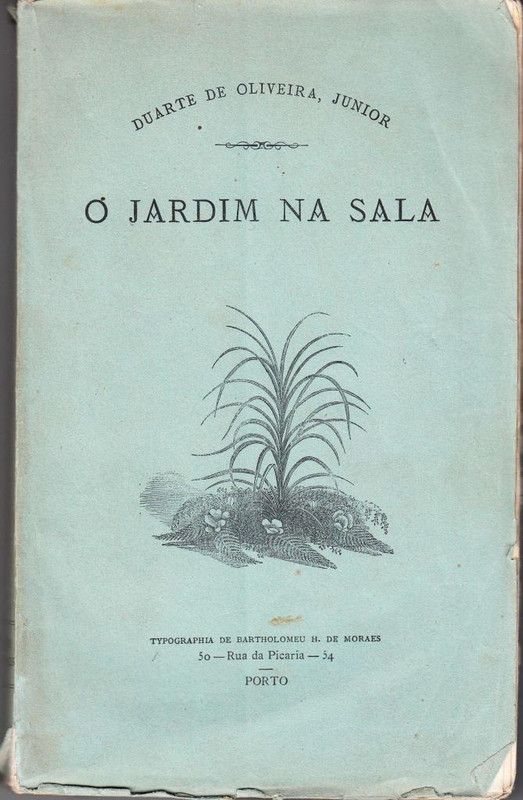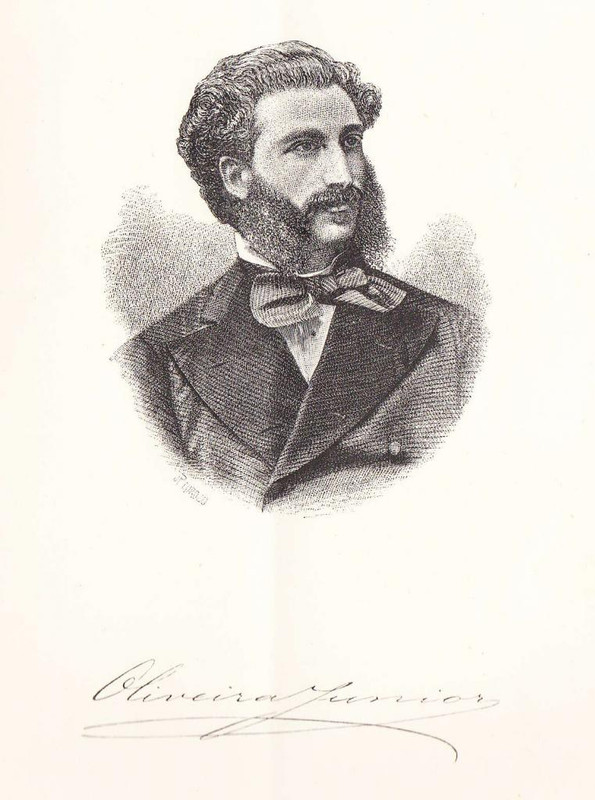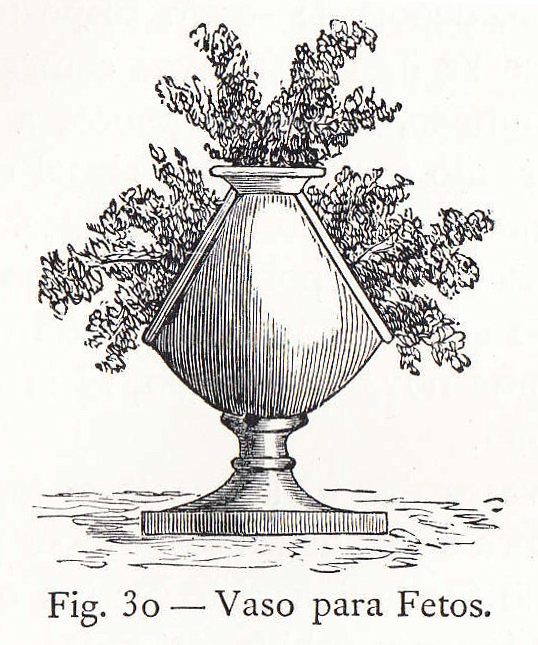A árvore que sobra


Desde crianças que não gostamos de ser meros espectadores. Esforçamo-nos desde então por traçar rectas, caminhos mais curtos ou mais rápidos, numa azáfama transformadora que, se destrói, logo tenta consertar para que não se note o estrago. Chegamos agora facilmente a muitos lugares e neles não faltam florestas acabadas de plantar (mas por que será que elas nos lembram desertos?), albufeiras onde estrepitosas motos de água permitem a descontracção ansiada depois de uma semana de canseira citadina (mas onde está o rio bravo que ali se admirava?) e centros de interpretação com promessas de uma via privilegiada de comunicação com a natureza.
Lamentavelmente, a natureza não tem espinhos ou ganchos com que se defender, anda muito melindrada e nem sempre resiste a tanto empreendedorismo. Decerto há plantas que também aproveitam os estradões, abertos serra acima a pensar nas eólicas, para experimentarem outros habitats favoráveis ou apenas colonizarem o novo espaço disponível. E também conhecemos as que apreciam as clareiras dos novos matagais de eucaliptos com que esverdeamos o país. Mas, mais frequentemente, depois de serem maltratadas ou de lhes derrubarem o bosque de sombra, humidade, musgo e sossego em que viviam, as plantas não conseguem adaptar-se ao novo ambiente e definham. Talvez seja essa a razão dominante para a raridade desta árvore, uma das quatro do género Sorbus no nosso país. Dela há por cá poucas populações conhecidas, avisando a Nova Flora de Portugal, de Amaral Franco, que elas se restringem às serras do Gerês, Nogueira e Gardunha, onde os carvalhais também já foram mais abundantes. Os registos da Flora On, porém, indicam outros locais onde a espécie resiste, na Beira Alta e em Trás-os-Montes.
O espécime que fotografámos está em Castro Vicente; ele e um companheiro mais novo parecem ser únicos numa vasta área. Encontrámo-lo graças a uma indicação do Miguel Porto, mas chegámos tarde para ver as cimeiras de flores, e os frutos não estavam ainda formados. As pétalas são brancas e rodeiam inúmeros estames, como no pilriteiro (Crataegus monogyna), e em 1753 Lineu até lhe chamou Crataegus torminalis. As folhas ainda se mantinham frescas e pudemos verificar como são glabras (embora tenham sido meio penugentas no início da Primavera), de textura rija e contorno profundamente lobado; é esse o traço que o distingue das restantes sorveiras portuguesas.
Esta sorveira (S. torminalis) é nativa do centro e sul da Europa, norte de África e parte da região mediterrânica. A informação do portal Anthos diz-nos que ela se encontra bem disseminada na Península Ibérica, mas só do lado espanhol. Ao estudarmos as referências sobre ela, lemos que o epíteto latino torminalis se refere ao risco de problemas intestinais que a ingestão das bagas pode provocar. E aprendemos ainda que esta árvore é inerme.